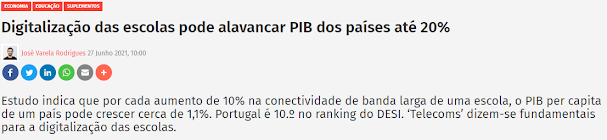Professores, formadores de professores, sindicatos de professores, associações de professores e outros - como agora se diz - agentes/actores responsáveis pelo ensino, parece não terem percebido ou, a terem percebido, parece não se preocuparem com o anunciado e propagado fim da profissão docente.
Vejo ainda outras justificações para a falta de alusão ao assunto no espaço público (onde deveria ocupar lugar de destaque):
- por um lado, o cansaço e o desencanto de muito professores e formadores, para quem o alheamento é a única estratégia de sobrevivência que conseguem activar; e,
- por outro lado, a pressão de quem está interessado em acabar com a profissão, recorrendo a estratégias iníquas de catalogação negativa de quem se atreve a questionar o rumo que está a ser seguido, de aliciamento com promessas de um fantástico "desenvolvimento", de acusação por tudo o que possa correr mal se esse rumo não for seguido. Não há alternativa, dizem.
Foco-me neste último aspecto: quem está interessado em acabar com a profissão faz crer que a aprendizagem melhora infinitamente se se afastar o professor dos alunos, deixando de os ensinar. Se forem substituídos por recursos digitais ou se se tornarem técnicos que asseguram o funcionamento desses recursos, abrir-se-ão janelas infinitas de conhecimento para que os alunos possam descobri-lo, conseguirão todas as competências necessárias... no mercado de trabalho, evidentemente.
A aprendizagem melhora, tanto, mas tanto, que o PIB dos países subirá de imediato. Dizem os estudos, evidentemente! Para tudo o que se quer impor na educação pública há um estudo pronto a usar, que diz... E se não há, ou se não diz como se quer, encomenda-se.
Poderes políticos - que, por terem alienado o seu poder, pouco podem - tratam de legitimar o que permite abrir portas a negócios privados na escola pública. E, assim, correm de feição os negócios a quem quer fazer negócio.
Esta nota vem a propósito de um recente e muito esclarecedor artigo de José Varela Rodrigues, cujo título pode se lido abaixo, publicado no Jornal Económico (aqui). Jornal, onde, de facto, cabe tal conteúdo.
O artigo merece ser lido por inteiro. Escolhi, no entanto, passagens que ilustram o que acima disse, omitindo o nome das empresas, pois não é isso que aqui interessa. Veja-se como, sendo empresas (de comunicação), apresentam, sem qualquer pudor, ideias para a educação e como traçam o destino dos professores e da sua reconversão (claramente em função dos seus interesses). Os destaques a vermelho são meus.
"Estudo [“Connecting Learners: Narrowing the Educational Divide” (aqui), de uma entidade designada por Economist Intelligence Unit, em cuja página online se pode ver o logotipo da UNICEF] indica que por cada aumento de 10% na conectividade de banda larga de uma escola, o PIB per capita de um país pode crescer cerca de 1,1% (...). Os países com um nível reduzido de conectividade de banda larga têm um potencial de crescimento que pode chegar aos 20% do produto interno bruto, caso desenvolvam uma ligação das suas escolas à internet (...)
O estudo, que é patrocinado pelo grupo de telecomunicações (...) indica que a força laboral de um país está mais qualificada e tem um maior potencial de criação e desenvolvimento de ideias inovadores quanto maior for o nível de conectividade das escolas à internet.
[Para o país... o estudo] aconselha a que se sigam quatro medidas-chave: adotar uma estratégia de parceria «holística público-privada para coordenar os esforços com as partes interessadas (...)»; investir na construção de infraestruturas (...); «incorporar a internet e as ferramentas digitais na educação», formando os docentes para os desafios tecnológicos e digitais; e políticas de cibersegurança (...).
Seguindo as orientações (...) há lugar a um potencial aumento da qualidade educativa (...), [e] criar-se-á «uma força laboral produtiva que fomente a inovação. Acresce o potencial de criação de trabalho, o desenvolvimento comunitário, bem como o desenvolvimento e crescimento económico».
Os números demonstram que há um caminho a percorrer, em Portugal. Não é por isso uma coincidência que o Plano de Recuperação e Resiliência português preveja (...) 559 milhões para o programa ‘Escola Digital’ (...).
Qual o contributo das empresas (...) para um ensino mais digital em Portugal? Contactada, a [empresa] fez saber que defende que a tecnologia «tem de ser integrada na educação como um meio, para que as escolas disponham de mais ferramentas para explorar metodologias inovadoras» (...).
A empresa acredita que com novas plataformas, as escolas vão poder «aprofundar a diferenciação pedagógica e proporcionar aos alunos um percurso de aprendizagem ao seu ritmo e com maior autonomia». É que os recursos educativos digitais vão «facilitar o acesso à informação e ao conhecimento de uma forma universal, podendo assegurar a inclusão de cada aluno, e respondendo, de forma mais eficaz, ao contexto ou necessidades especiais de cada um».
Mas (...) «a integração da tecnologia terá também de valorizar a formação, o trabalho cooperativo e a partilha de práticas pedagógicas no desenvolvimento profissional dos professores e de outros técnicos» (...) é «fundamental existir uma preparação e promoção do desenvolvimento de competências que fomentem a utilização eficaz da tecnologia, bem como promovam a literacia digital dos alunos, pais e professores».
[Outra empresa diz] «imagine-se como será mais diferenciadora a experiência de realizar uma visita de estudo sem ter de sair da sala de aula, ou como influenciará os alunos uma imersão interativa em cenários remotos, via VR ou AR, em plena sala de aula»."