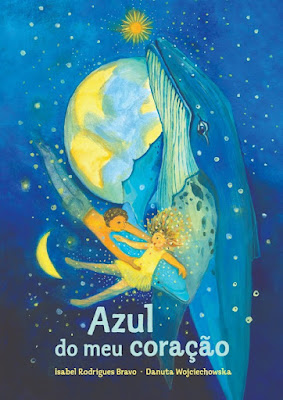Novo texto do Professor Eugénio Lisboa que muito agradecemos.
Um pouco de cultura
é uma coisa perigosa.
Alexander Pope
Num mundo culto temos uma
conduta florida e num mundo
inculto temos discursos floridos.
Confúcio
Escrevi com amargura o título deste artigo e escrevi-o só ao fim de muitos anos em que andei a não querer escrevê-lo. Custa-me dizer mal da nossa democracia, até porque, quando nasci, não havia democracia e vivi, depois, quarenta e quatro anos sem ela.
E o pior sofrimento que a falta de democracia produz não é proibirem-nos que pensemos e digamos certas coisas, o pior é quererem forçar-nos a dizer outras coisas que não pensamos e em que não acreditamos. Ser forçado a dizer é, acreditem, um sofrimento bem maior do que não poder dizer.
Mas às ditaduras, mesmo as pífias, como foi a do Estado Novo, nunca lhes basta que fiquemos calados, querem, à força, que falemos, de acordo com aquilo que são as “verdades” que eles apregoam. Dói que se farta, mesmo que se resista e se recuse a “verdade” que nos querem vender.
Portanto, quando veio a democracia, regalei-me e preparei-me para me regalar o tempo todo. Íamos finalmente ter educação, saúde e cultura à séria, sem falar noutras coisas igualmente necessárias. Mas a educação, a saúde e a cultura tinham talvez sido as áreas mais particularmente vítimas do Estado Novo.
Quanto a educação, pela parte que me toca e apesar de programas impregnados da ideologia maligna daquele regime que nos governava, Moçambique, onde nasci e fiz o ensino primário e secundário, era, apesar de tudo, um território com mais abertura e povoado por muitos refilões que o regime exportava (expulsava) da metrópole para lá.
Isto e vivermos rodeados de gente de extracção inglesa e habituada a mais do que alguma liberdade de expressão, fazia com que, à boleia de um núcleo inesquecível de magníficos, cultíssimos e pouco subservientes professores, no liceu, pessoalmente, não me pudesse queixar muito.
Se puser de lado algum (raro) aviso ou ameaça de algum neo-convertido oportunista, no sector do ensino, eu e outros como eu fomos deixados livres de dar curso à nossa iconoclastia, gozando à larga com as diatribes acutilantes de Voltaire contra a igreja e os tiranos, que a minha excelsa e culta professora de filosofia acolhia com um sorriso deliciado, sem temer dar a classificação mais alta ao rebelde de serviço.
Mas nada disto permite negar que houvesse repressão – e da dura – nas áreas da cultura e educação e criminosa forretice na saúde, noutras partes do “império”.
Portanto, a democracia iria acautelar, finalmente, estes filhos perseguidos. Hoje, limitar-me-ei à cultura, talvez a área mais desprezada por esta democracia e por todos os governos, SEM EXCEPÇÃO ABSOLUTAMENTE NENHUMA. Independentemente da ideologia no poder, nem socialistas nem social democratas, quiseram NUNCA propiciar um orçamento minimamente decente à cultura.
Tornou-se evidente, ao fim de quarenta e sete anos de democracia, que, para os políticos democratas que nos governam, a cultura “não é uma coisa séria”, para roubar o título de uma obra inesquecível do grande Pirandello.
Portugal é, envergonhada e vergonhosamente, um dos países da União Europeia que menos gasta com uma cultura em que no fundo não acredita. Em percentagem do Produto Interior Bruto, andámos, nos primeiros tempos desta tão desejada democracia, pelos miseráveis 0,5 % e actualmente – corai, senhores ministros! – andamos a rapar o fundo desprovido da gamela: 0,25%. A média europeia é de 1%, isto é, quatro vezes as nossas encolhidas migalhas.
Se nos lembrarmos de que países como a Argentina chegaram a andar pelos cinco por cento, ou seja, vinte vezes o que nós gastamos, não será excessivo dizer que o Estado Português não se digna dar ao sector da cultura uma fatia decente do PIB, mas tão só uma relutante e mísera esmola! Assim como quem diz: “Dê-se-lhes lá qualquer coisita, para nos desampararem a loja…”
Porque os nossos governantes de todas as cores, no fundo, detestam gastar dinheiro com coisas que não dão muito nas vistas – tal como no tempo do Duarte Pacheco, cujo amor pelos estádios de futebol esta democracia herdou e ampliou. E eles acham que a cultura não passa de um capricho de calaceiros e rufias que não querem trabalhar. Que a cultura, em suma, não serve para nada.
Mas estão muito enganados: ela serviria, por exemplo, para os nossos egrégios ministros serem capazes de ler aqueles textos, que hoje são marcos históricos fundamentais, acerca da influência que a cultura tem no crescimento económico de um país por via do efeito subliminar que uma imagem cultural adulta consegue produzir.
Ortega y Gasset escreveu, a este propósito, páginas luminosas, dizendo coisas como esta: “a cultura não é a vida na sua totalidade mas apenas o seu momento de segurança, força e claridade”. Como já um dia observei, comentando este notável ensaio do pensador espanhol, “é esta imagem de segurança, força e claridade – que a cultura tão eficientemente inculca – é esta imagem, repito, que pode, subreptícia mas fortemente ajudar a criar aquele clima de confiança e segurança sem o qual o comércio não triunfa nem prospera.”
Por outras e desenfastiadas palavras: uma imagem cultural pelintra não alicia seja quem for para comerciar a sério connosco. Isto mesmo aprenderam os britânicos, quando, no século passado, descobriram, para seu espanto, que os seus magníficos produtos industriais se vendiam pouco, porque o país se descuidara de fazer projectar para o exterior uma imagem cultural potente (não se tratava de não terem cultura, mas sim de a não tornarem visível.)
Curiosamente, quem chegou a esta conclusão, depois de chefiar uma comissão de investigação das causas desse recuo dos britânicos em relação a outros países mais bem sucedidos na venda desses mesmos produtos, foi, não um personagem da cultura mas, sim, um personagem da área comercial: o Sr. D’Abernon. Do relatório dessa missão comercial, não cultural, transcrevo uma curta mas elucidativa passagem:
“Àqueles que dizem não ter esta extensão da nossa influência [a cultural] qualquer relação com o comércio, respondemos que estão totalmente errados; a reacção do comércio à mais deliberada inculcação da cultura britânica, que nós advogamos, é definitivamente certa e deverá ter lugar com a maior rapidez.”
Repito: o responsável por este relatório histórico, que esteve na base da criação do British Council, foi o chefe de uma missão comercial e não de uma missão cultural. Mas o British Council foi criado para promover, no estrangeiro, os valores culturais britânicos, como apoio indispensável à promoção do seu comércio.
“Sem a cultura e a liberdade relativa que ela pressupõe”, disse-o esse espírito profundo e luminoso, Albert Camus, “a sociedade, por mais perfeita que seja, não passa de uma selva. É por isso que toda a criação artística é um dom para o futuro.”
Que bom e eficaz seria que os nossos primeiros ministros batessem de vez em quando o pé ao dono das finanças, que nada sabe de cultura, mesmo que saiba alguma coisa de finanças, dizendo-lhe, alto e bom som, que há vida para além das finanças.
No seu muito conhecido e divulgado poema “Liberdade”, Fernando Pessoa lembrava, sei lá porquê, que Jesus Cristo “não sabia nada de finanças”, inculcando, sibilinamente, que ele saudavelmente as desprezava. Às vezes, é preciso meter na ordem o ministro das finanças, explicando-lhe, muito devagar e com muito cuidado, que há outros valores que merecem ser respeitados.
Talvez ajude contar-lhe esta verdadeira história: a alguém que lhe perguntou qual a diferença entre os cultos e os incultos, o venerável Aristóteles respondeu: “A mesma diferença que existe entre os vivos e os mortos”.
P. S. – Como disse, os nossos governantes gostam de nos dar apenas “um poucochinho” de cultura. É um grande erro e quero, a esse respeito, lembrar-lhes aqui o aviso do poeta Alexander Pope: ”Um pouco de cultura é uma coisa perigosa”. Sabemos hoje que mais vale nenhuma cultura do que poucochinha cultura. Mal lambida, a cultura é nefasta.
Eugénio Lisboa