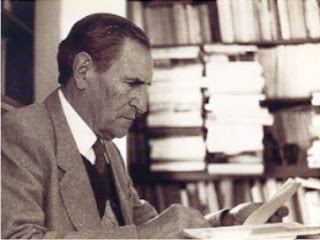Texto elaborado para a palestra realizada na Casa Miguel
Torga, no dia 10 de Fevereiro de 2016, integrada nas “Tardes no
Torga”
O que liga a química a Miguel Torga? Que evocações químicas
podemos encontrar em Torga? Na minha opinião, muitas e
variadas: desde as mais banais – mas nem por isso menos
interessantes, pois são portas para o maravilhoso - até às mais
subis que nos conduzem a caminhos inesperados. Como quimico e leitor
de Miguel Torga, são esses caminhos que irei percorrer, procurando
não me perder com erudições fúteis,
Coimbra, 9 de Novembro de 1984 –
Sábios. Lá estive parte da
noite no meio deles, a ouvi-los como de castigo. Minerva é só meia
irmã das Musas. Nunca ensinou a nenhum filho que o fulgor de um
verso pode valer por mil silogismos. [...]
Esta passagem do Diário serviu-me de desafio para a palestra.
Colocar a relação entre a ciência, neste caso a
química, e a poesia não em campos opostos, mas complementares. Ou
mesmo, seguindo Shelley, procurar mostrar que a ciência é muito
importante porque nos ajuda a explicar e agir sobre a complexidade e
maravilhas mundo, enquanto que a poesia pode contribuir para a
compreensão, aceitação e admiração do mundo.
A obra de Miguel Torga deve ser lida, mais do que analisado. A beleza e a
lucidez por vezes crua, mas não cruel, da sua escrita, única e
maravilhosas, sublimam, em particular no Diário – o qual
soma mais de mil e setecentas páginas - sessenta anos da vida de um
ser humano que declarando-se poeta, foi também médico. Um poeta
cuja poesia mais sublime está, na minha opinião, nos seus contos e Diário. Um
caminhante e admirador da natureza verdadeira (não da romântica dos
que não a vivem), um viajante
incansável, praticante da liberdade, e, sobretudo dono de uma
curiosidade intelectual e cultural insaciáveis, as quais foi
preenchendo de forma tanto sistemática quanto caótica, a partir de
uma infância dura. O Diário e os contos devem ser lidos, repito, assim como essa obra única que é a sua autobiografia com a geografia retocada que é
a Criação do Mundo.
Não conheci Torga pessoalmente, mas acredito compreender muitos aspectos da
personalidade de Torga pois, eu próprio, filho de um latoeiro –
curiosamente há vários no Diário que Torga vai observando e
admirando -, que mais tarde foi operário sem deixar de ser artista da lata, e também neto de pessoas do campo,
encontrei em Torga, com as devidas distâncias, muitos dos
inconformismos que desenvolvi e muitas das desconfianças que uma
pessoa que vem do campo encontra na cidade, em especial quando, como
Torga, se cruza com citadinos que não sabem
desmanchar um porco de matança, nem conhecem a diferença entre uma oliveira e
um azambujeiro, e que não entendem que a cultura e a poesia
são conquistas e não heranças. Que a rudeza da natureza e a nossa
ação sobre ela é também a sua beleza e tragédia,
Coimbra, 20 de Novembro de 1960
– O
que me tem valido é a resistência da cepa. Sou como aquelas
oliveiras cordovesas enxertadas a azambujeiro. Dou azeite poético,
com a mínima acidez possível, num cavalo com toda a amargura do
mundo.
Torga costuma ser catalogado como um escritor rural e telúrico,
ligado às serranias e fragas de Trás-os-Montes. Mas, no que
escreveu, não se encontra bucolismo nem saudosismo - antes pelo contrário-, para além da
admiração pela coragem e carácter das gentes do campo e relativa compreensão
para com a resignação destas em relação à miséria e ao
sofrimento. Segundo Torga, Eça falhou em A Cidade e as Serras
porque nunca sujou as botas na serra. Embora, escrita num contexto
particular, a afirmação seguinte de Torga resume o seu
inconformismo e ao mesmo tempo a sua adesão ao progresso ao serviço da
humanidade,
Coimbra, 31 de
Outubro de 1947 –
[...] Não sou impermeável
ao progresso, muito pelo contrário, mas necessito que me demonstrem
a razão das coisas.
Claramente, em alguns momentos que irei referir mais à frente,
Torga não ficou convencido da necessidade do progresso, e até o
rejeitou ou se refugiou dele,
Coimbra, 26 de
Abril de 1952 –
Contra
o aceleramento da história um passeio no campo. Não conheço outro
antídoto. Diante de uma arte que parece ter as suas possibilidades
esgotadas [...] duma ciência que devora a própria
matéria que estuda, ou duma técnica apostada em envergonhar a nossa
fisiologia – só há o recurso das hortas.
Noutros momentos, acreditou na esperança, com a ironia de quem nos anos 1960 acompanhava as
promessas de cura para todas as doenças,
Coimbra, 20 de
Dezembro de 1966
[…] não há dia nenhum sem a notícia de qualquer prodígio.
Astronautas que sobem e descem, descobertas que se sucedem,
ortodoxias que se pulverizam, doenças incuráveis que se curam, toda
a vida do mundo a ferver no caldeirão da esperança.
Hoje, poder-se-ia fazer a mesma ironia – num artigo recente do The Economist
tinha o título: “2016: o cancro vai ser curado... outra vez!” -,
mas isso seria um erro de perspectiva. Curamos actualmente muito mais
doenças e para isso a química muito tem contribuido.
Mas voltemos à aparente trivialidade: o uso da palavra «química».
Miguel Torga utiliza a palavra algumas vezes no Diário. Por
exemplo, em sentido literal, esta é usada para se referir à água,
São Martinho de Anta, 27 de
Dezembro de 1938
–
Descobri hoje a água. Não a
água lírica dos poetas. Descobri mas foi a
água química e líquida,
a correr, a manar duma fraga
[...]
Esta bela passagem pode levar-nos à complexa química desse líquido
especial que é água, que existe no nosso planeta nos três estados
e é a substância mais importante para a vida – tudo coisas tão
banais como maravilhosas – mas deixemos isso para outro altura. A
água, em especial a termal, tem uma presença importante em Torga.
Na passagem seguinte evoca-se simultaneamente a descrença na ciência
e na água como tratamento, e mesmo como enriquecedor das relações humanas...
Caldelas, 16 de
Agosto de 1952 –
«Quem com água se cura,
pouco dura» diz o ditado. Mas eu cá me vou aguentando, a beber água
da fonte. Com a mala cheia de drogas, acabo por engolir apenas estes
bochechos homeopáticos de linfa natural [...] maltratado pela
ciência de hoje, apego-me instintivamente a esta sabedoria empírica
do passado, além do mais, poética. [...]
A paisagem repete-se muito [...] os devotos são sempre os mesmos
[...] mazelas que nunca são curadas [...]
Relações humanas para as quais Torga clama por um "insecticida" -
produto da química bastante discutido no final dos anos 1950 -
metafórico,
Coimbra, 21 de Abril de 1959
–
Tanto
insecticida que se descobre, e não há meio de aparecer um capaz de
debelar o equívoco – a praga das relações humanas.
A química é referida em sentido metafórico duas outras vezes,
Leiria, 5 de Abril de 1940 –
[...] O Monte dos
Vendavais. Nunca li nada onde o
tétrico fosse tão quimicamente puro.
Porto,
28 de Abril de 1958 […]
assistir à representação
de uma peça nossa. Tem-se pelo menos a visão objectiva da
impotência quimicamente pura.
No contexto da prática médica de Torga e das operações e análises
a que é sujeito, surgem também referências explícitas à química,
Lisboa, Hospital de S. Luís,
21 de Junho de 1972
–
[…]
a minha natureza tenta manter-se alerta. Mas tem contra ela o poder
da química e a tarimba do médico. O hipnótico acabará por actuar
[…]
Coimbra, 26 de Janeiro de
1986
–
O dia inteiro a ser
prescrutado por dentro pelos olhos impiedosos da ciência. A física
e a química apostadas em determinar os dias que me restam. Dantes a
duração da vida era um mistério sagrado. Agora conhecem-se os
mecanismos íntimos da fisiologia e basta a dosagem
no sangue de determinado elemento para sabermos a que distância
estamos do fim. É um grande progresso do saber e uma grande
desolação. Sai-se do laboratório com um sentença de caica
sem apelo nem agravo, a cumprir a curto prazo, exarada laconicamente
num algarismo, num gráfico, numa imagem.
As referências não literais que aparecem à química no decurso da
sua prática médica e da análise que vai fazendo do mundo, ao longo
da sua vida de escritor são muito mais interessantes. Assim, como os
reflexos que vai dando e recebendo do que acontece no mundo que o
rodeia. Em especial, os textos que vai escrevendo refletem processos
naturais e artificiais, assim como o impacto da existência ou não
de medicamentos químicos para determinadas doenças. Já segui essa
pista, que nos pode conduzir do banal ao maravilhoso, no livro “
Jardins de Cristais- Química e Literatura” e vou aqui complementá-la com
alguns outros exemplos.
Nos Contos da Montanha, de 1941, no conto Maria Lionça,
o médico pouco mais faz do que receitar óleo canforado, tintura de
jalapa e digitalina. No início do Diário, Torga está na
aldeia a receitar pouco mais do que xaropes. O médico é demasiadas
vezes impotente perante a doença. Nos Novos Contos da Montanha,
de 1944, Julião está condenado e o médico nada pode fazer,
O
médico olhou-o, coçou a cabeça, pôs-se a mexer nos papéis da
mesa, e acabou por dizer a triste verdade.
-
Pois é, é... infelizmente, é.
Nem
falaram de remédios, nem de hospital, nem de nada. […] Ambos se
resignavam aquela fatalidade monstruosa. O doutor ficava com o nome
miraculoso e com a sabedoria inútil; o gafado ia mostrar ao mundo,
de mão estendida, a sua repugnante desgraça.
[...]
A
tragédia é total e quase incompreensível hoje em que a lepra é
facilmente curada, mas ainda não desapareceu totalmente. Só nos
anos 1950 apareceu um medicamento eficaz, a dopsona. Até lá a
doença era tristemente democrática,
São
Martinho de Anta, 15 de Setembro de 1945–
[...]
Tudo ignorância? Tudo
miséria? Talvez. Mas a lepra toca os ricos, os pobres e os
remediados [...]
Como
indiquei com mais pormenor em “
Jardins de Cristais” o tratamento
proposto a Julião, embora inútil, não estava muito longe do único
que havia até aos anos 1940, um ácido obtido do óleo de chaulmoogra, muito semelhante
em termos fórmula química (não de estrutura) ao ácido oleico do
azeite. Assim a cura desesperada - mas inútil - tinha algumas
parecenças com as que existiam...
-
Você já experimentou azeite?
- perguntou-lhe um dia em S. Cibrão uma velhota – Dizem que é
como quem dá um talhadoiro. Tem é de se tomar banho nele. [...]
Infelizmente
as chagas e os bubões da lepra foram insensíveis ao banho
purificador. E, o Julião depois de alguns dias de esperança,
incerteza e desilusão, esqueceu-se de si e da sua tragédia, para
começar a pensar noutra coisa: reaver os cinquenta mil reis que dera
pelo remédio enganador. […] Quem seria capaz de lho comprar?
[...]
Também os antibióticos não estavam disponíveis até 1944. Em
1943, Torga escreveu,
Coimbra,
4 de Maio de 1943
[...] uma meningite, muitos
dias entre a vida e a morte [...] e o doutor no derradeiro instante a
salvar a situação com um frasco de sulfamidas e algumas injeções
de soro.
As sulfamidas são medicamentos
sintéticos artificiais, mas bastante falíveis e com muitos efeitos
secundários. Hoje não passariam no crivo dos testes clínicos.
E, em 1945, Torga experimenta
pela primeira vez a penicilina,
Coimbra, 1 de Fevereiro de
1945 – Penicilina. Lá ensaiei também a última panaceia que a
ciência inventou. Um miúdo em arder em febre, o pus a estalar-lhe
os ouvidos, e dores medonhas. Dantes deitavam-lhe sobre a membrana do
tímpano leite de parida, e era cura radical. Agora, penicilina.
Quando a fui buscar a casa de um doente onde havia sobrado, o pai do
enfermo não queria largar mão do tesoiro. [...] acreditava com uma
força sobrenatural na magia da droga. [...] E eu injetei aquilo ao
mesmo tempo humilhado e contrito. Por um lado, sabia que o fungo
havia de ser ridículo daqui a cinquenta anos; por outro, era o
máximo que o esforço, a inteligência e a esperança da humanidade
tinham conseguido até hoje.
Torga tem bastante intuição
sobre a perda de eficácia da penicilina, devida à evolução das
bactérias que resulta na resistência aos antibióticos. Depois da
penicilina, uma molécula de origem natural, isolada a partir de 1941
e preparada em série a partir de 1944, inicialmente para uso
militar, foram descobertos outros antibióticos naturais e
semi-sintéticos. Um destes é ampicilina que é uma modificação
artificial da penicilina e ficou disponível a partir de 1961.
Actualmente são conhecidas
mais de cem milhões de substâncias, sendo descobertas mais de
quinze mil por dia. Cerca de metade são de origem natural, sendo a
outra metade de origem artificial, ou seja feitas em laboratório,
não existindo na natureza. Outras, existindo na natureza, são
produzidas (sintetizadas) de forma não natural (tendo exactamente as mesmas propriedades das naturais). Muitas destas moléculas são
possíveis medicamentos.
A situação é muito diferente
do início do século XX. O primeiro grande estudo sistemático foi
realizado por Paul Ehrlich que descobriu, em 1909, a “bala mágica”
para a sífilis, o salvarsan. Mas estes tipos de descoberta foram
durante muitos anos muito escassos.
Voltando aos Contos da
Montanha, de 1941, no conto Castigo, um parto corre mal,
Num terror de náufrago, o Dr.
Daniel pôs-se a injetar anticoagulantes a torto e a direito, a
meter mechas, a comprimir o ventre com toda a força. Nada.
[…]
O pulso caía a olhos vistos.
Uma palidez de cera cobria o rosto da infeliz.
- Cardiazol, depressa!
- Quero o meu homem ao pé de
mim! - pediu Silvana, com súbita energia.
[…]
- Vou morrer, Bernardo, e
quero-te pedir perdão....
A tragédia é grande, mas
concentremo-nos em duas palavras «anticoagulantes» e «cardiazol».
O anticoagulante disponível era a heparina, um polisacarídeo
anticoagulante natural obtido a partir de animais. Demorou ainda
algum tempo a surgir um anticoagulamente artificial, a varfarina, mas
a heparina ainda hoje é usada. A história da heparina é interessante, mas
a do cardiazol é muito mais. Tendo descoberto, em 1924, um processo
para produzir tetrazóis, Karl-Friedrich Schmidt patenteou a
possibilidade de obter moléculas com essa estrutura e criou de
imediato uma companhia farmacêutica. Em 1926 a molécula já era
testada como estimulante da respiração e fluxo
sanguíneo e do SNC em geral. Rapidamente se tornou popular,
sabendo-se, no entanto, que em excesso provocava convulsões. Em 1937 foi testada
para um suposto tratamento de doentes mentais com terapia convulsiva.
Esse tratamento era complicado e tinha efeitos secundários elevados,
tendo sido substituido mais tarde pela terapia electroconvulsiva.
Só a partir dos anos 1950
foram desenvolvidos medicamentos relativamente eficazes para a
esquizofrenia e outras doenças mentais, deixando a terapia
convulsiva, o choque insulínico, a terapia malárica e a lobotomia como horrores
históricos que espelham a impotência da medicina, antes dessa década,
perante estas doenças. É de notar, a esse propósito, o conto
Milagre em que Raquel depois de desenganada da medicina é
levada à bruxa fica “curada” apenas a tempo de se atirar de uma
fraga.
Há bastantes outros partos nos livros
de Miguel Torga, um deles realizado por um padre com sucesso.
Noutros, como no do conto anterior as coisas correm mal. Noutros ainda há
nados-mortos, mortes prematuras, injeções, sofrimento. As coisas
melhoraram muito desde essa altura. Ha também bastantes referências
a proles extensas. A Mariana de Novos Contos da Montanha
e a meretriz do Diário, por exemplo,
Coimbra, 28 de
Abril de 1943
[...]
– Profissão?
-
Meretriz.
-
Filhos?
-
Oito.
-
E todos desde que...
-
Todos.
[...]
Amparou a barriga desmedida, acomodou-se no banco [...]
-
Abortos?
-
Nenhum.
[...]
O nono rebento nasceu como o de
qualquer mulher honrada [...]
Será que estas seriam as mesmas
personagens com o conhecimento dos contraceptivos orais modernos,
disponibilizados pela química a partir dos anos 1960?
O Diário espelha também muito bem a
evolução de atitudes perante o tabaco, um produto natural que faz
muito mal por se ingerir o seu fumo cheio de produtos também
naturais, infelizmente cancerígenos. Nos anos 1940 fazia tosse, nos anos 1980 era já claramente nocivo,
Coimbra, 15 de
Abril de 1943 – Era preciso
dizer-lhe que o fumo lhe fazia mal, lhe aumentava a tosse e o
pigarro. Nos livros, pelo menos, vinha assim. Mas filosofei:
- Olhe, a vida, sem uma pitada
de risco, não presta. [...] um diabo que se esconda no bolso do
colete [...] Intoxica, mas é um regalo vê-lo depois desfeito em
cinza, vencido à custa de um segundo da nossa vida.
Praia do Pedrógão, 23 de
Agosto de 1981
– Os
malefícios do tabaco. […]
os do cigarro que concreto
que toda a gente fuma. […]
E pôs-me diante dos olhos as
estatísticas, por mim, de resto, conhecidas. Simplesmente, eu
navegava noutras águas. Nas da angústia humana, que desde os
primórdios […] se socorreu de tóxicos que a acalmassem,
pacificassem, fosse qual fosse o preço. […] Há dores mais
profundas e pertinazes do que essas que se aliviam com aspirina.
Podemos encontrar
aspectos químicos ainda mais subtis. A partir do conto A
vindima, já muito analisado em termos linguísticos e
sociológicos, podemos seguir um manancial de alusões química. A
produção do vinho, as reações de transformação da glicose em
etanol na produção do vinho. Os efeitos do álcool no mosto
parcialmente fermentado,
Ao cabo de quatro dias de vindima na Arrueda, o cheiro do mosto
embebedava os sentidos. […]
Podemos seguir a química do amor, com as moléculas norepinefrina, serotonina e
dopamina, que, sendo, palavras bonitas contribuem para a beleza do
amor,
Ou
porque trazia dentro o fogo da paixão a aquecê-la, ou inspirada
pela beleza do cenário, a Lúcia punha o coração a voar […]
E
chegar à química da tragédia e do sofrimento,
[…]
quando daí a bocado chegou congestionado à vinha e deu a
notícia do desastre, quase teve de berrar.
Foi
então que a voz da Lúcia estacou de vez. Garroteada como a do
namorado, a garganta fechou-se-lhe num espasmo de perpétua agonia.
Vitorino entrou dentro do tonel e já não saiu com vida,
provavelmente devido a envenenamento com monóxido de carbono, mas
também poderia ter sido devido a asfixia por dióxido de carbono,
como acontece, por vezes, em poços. No primeiro caso, o monóxido de
carbono, um gás que não tem uma densidade muito diferente do ar, mas
que tem uma afinidade muito maior para a hemoglobina do que o
oxigénio, adormece-se e morre-se – numa tragédia infelizmente
ainda hoje repetida - sem o sentir, com a presença de concentrações
mínimas de monóxido no ar. No segundo caso, o dióxido de carbono é um gás
mais denso que o ar e morre-se de asfixia em locais em que este se
acumule.
Há
vários outros aspectos relacionáveis com a química e a ciência em
Torga. Não é possível aqui enumerar todos. A bomba atómica é referida várias vezes no Diário. Também
os plásticos e o petróleo são evocados, numa primeira perspectiva
parecendo como críticas ao progresso, ou, lembrando uma passagem
acima, como progresso não comprendido,
Santo
António do Zaire, 22 de Maio de 1973
–
Petróleo! Escrevo a palavra,
creio que pela primeira vez, e quase que me admiro de a não ver
alastrar no papel numa grande nódoa negra e gordurosa.
[…] Contemporâneo do
advento triunfal na cena do mundo desse pus untoso e fétido,
extraído dos abscessos recônditos da terra, nunca consegui
acomodá-lo harmoniosamente nos sentidos e no entendimento. Sei que
onde ele aflora, nasce o oiro. Mas nem assim o amo. O ver do céu, há
pouco, o primeiro poço a arder, perguntei a mim mesmo dentro o
avião, apesar de o saber alimentado a gasolina, se aquela chama
seria um lume de esperança ou um sinal de maldição. […]
ia pensando na lição que ali estávamos a dar ao indígena. Em vez
de lhe emprestarmos consciência racional à sua riqueza anímica, de
lhe abrirmos o entendimento para as virtualidades da natureza que ama
mas desaproveita, ensinamos-lhe a técnica de a destruir, de a
violentar, de a esventrar e de a poluir finalmente com as fezes da
sua própria alma queimada.
Pondo
de parte a referência paternalista à "lição" ao indígena já que
todas as afirmações têm de ser vistas à luz do seu tempo e do
seu espírito, trata-se de uma proposta claramente ecologista. Já
sobre o petróleo: dádiva ou maldição? A resposta depende do nosso
optimismo ou pessimismo, mas, como Torga bem refere, não podemos, por
agora, passar sem ele.
S.
Martinho de Anta, 26 de Março de 1978
- A
feira. […] Acabou o artesanato, a expressão singular da atividade
humana. Nem um barro modelado, nem uma manta tecida à mão, nem o
ferro forjado. Plásticos a todos os níveis. E o mais trágico é
que ninguém dá por isso. Ninguém parece lembrar-se sequer
do latoeiro, do cesteiro,
ou do tanoeiro […] Montes e montes de produtos incaracterísticos,
feitos em série enfartam agora os compradores.
Mas
afinal o que é criticado não é o material, agente inanimado, mas o
seu uso. Montes de produtos incaracterísticos que não parecem ter
alma ou calor humanos. A culpa não é dos plásticos é nossa!
Em Torga há percursos a explorar com um olhar químico, partindo da banalidade do dia-a-dia para o espanto perante o maravilhoso que nos rodeia.