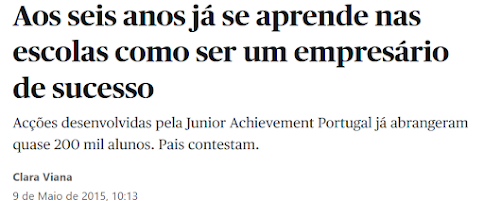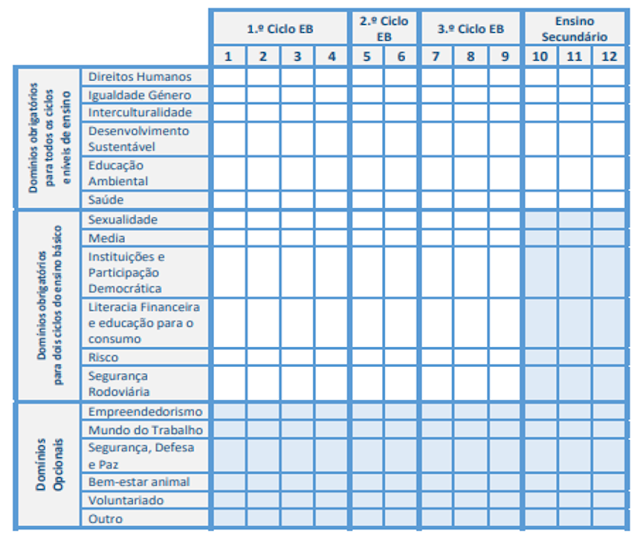Meu artigo no livro "Artes e Educação. Antologia de autores portugueses", recentemente saído na Imprensa Nacional:A dicotomia entre ciência e artes foi discutida na famosa polémica que se seguiu à conferência que o físico-químico e romancista inglês Charles P. Snow proferiu em 1959 em Cambridge, no Reino Unido, sob o título As Duas Culturas [1]. No mundo do pós-guerra, claramente dominado pela ciência e pela tecnologia, Snow tinha chamado a atenção para a separação cada vez mais arreigada entre a ciência e a tecnologia, por um lado, e as humanidades, incluindo as artes, por outro, protestando talvez de um modo exagerado contra os “intelectuais literários” que ignoravam a ciência e tecnologia.
Pese embora todas as numerosas e por vezes bem sucedidas tentativas de aproximação, tal dicotomia permanece tão entranhada nos dias de hoje que alguns alunos não podem deixar de ser vítimas dela. Há casos de conflitos interiores quando são obrigados a fazer uma escolha, no ensino secundário em Portugal, entre “ciências” e “letras”. Nesse nível de ensino, é assaz reduzido o trabalho interdisciplinar e, no nível do ensino superior, as escolas continuam a dificultar a interacção entre as várias disciplinas, aprofundando cada vez mais a especialização disciplinar. Deste modo, poucos alunos se poderão aperceber das fecundas intersecções e confluências entre ciências e artes.
Acontece, porém, ao contrário do que muitos julgam, a ciência é uma forma de humanismo, pois é parte integrante da vasta e diversificada cultura humana. De facto, vendo bem, não há “duas culturas”, mas uma só, embora plural nas suas dimensões. Essas duas dimensões do espírito humano, embora servindo-se de métodos diferentes, tentam estabelecer relações, juntar o que está separado numa visão o mais coerente possível. As duas procuram sentido, encontrando-o, mesmo onde e quando ele não parecia presente. Esta comum busca de sentido é, como veremos, ajudada pela estética. As ciências, orientadas para a realidade física, na qual o ser humano evidentemente se inclui, dispõem de um método próprio para observar as regularidades que a Natureza exibe e as tecnologias, idealmente ao serviço da vida humana, permitem melhorá-la com base no conhecimento científico disponível. Por seu lado, as humanidades, não estando sujeitas a esse espartilho, não deixam por isso de estar ligadas à realidade, até pelo simples facto de serem produto do cérebro humano, que é um lugar da Natureza.
As duas usam a imaginação para conceber mundos [2], sendo a diferença que os cientistas têm de imaginar como é o mundo real – começam por colocar hipóteses a respeito do funcionamento do mundo, cuja veracidade vão depois averiguar – ao passo que os artistas podem, mais livremente, ser criadores de mundos – embora a sua liberdade não seja total, porque eles vivem e pensam “neste” mundo. O facto de as ciências e as humanidades serem amiúde guiadas por critérios estéticos é um aspecto unificador deveras relevante que costuma ficar esquecido. Com efeito, não são só os artistas que buscam o belo, os cientistas tentam também descobrir a harmonia ou beleza do mundo, que pode ser entendido como a coerência das partes entre si e destas com o todo [3]. O poeta romântico inglês John Keats escreveu os seguintes versos no final de Ode a uma Urna Grega (1819): “Verdade é beleza, beleza é verdade/ – e isso é tudo que conhecemos na Terra, e tudo o que precisamos de saber” [4]. É curioso que essa identificação entre verdade e beleza tenha sido proclamada em pleno romantismo, quando a ciência e tecnologia (esta última pujante com o advento da Revolução Industrial) e as humanidades estavam ou pareciam estar em colisão. Mas é muito anterior o lema latino Pulchritudo splendor veritatis, “A beleza é o esplendor da verdade”. O homem de ciências e o homem das artes são, afinal, hoje, tal como na Antiguidade Clássica, quando a racionalidade nasceu, e no Renascimento, quando a ciência moderna emergiu, o mesmo homem.
Pouco antes da palestra de Snow, o matemático e poeta britânico de origem polaca Jacob Bronowski (que foi também historiador e divulgador de ciência, dramaturgo e crítico literário) enfatizou, numa palestra proferida no MIT em Boston, nos Estados Unidos, em 1953 e publicada três anos mais tarde no livro Ciência e Valores Humanos [5], a profunda unidade entre ciência e arte, por partilharem uma ânsia de unidade num mundo plural e aparentemente díspar. Bronowski ilustrou a unidade da cultura citando o poeta, crítico e ensaísta inglês Samuel Coleridge, contemporâneo de Keats:
“Quando Coleridge tenta definir a beleza, regressava sempre a um único pensamento profundo: a beleza, disse, é a «unidade na variedade». A ciência não é nada mais do que a procura da descoberta da unidade na desordenada variedade da natureza – ou, mais exactamente, na variedade da nossa experiência. A poesia, a pintura, as artes, são a mesma procura, na frase de Coleridge, da unidade na variedade. Cada um, à sua própria maneira, procura as semelhanças sob a variedade da experiência humana.”
Não se pode dizer que essa mensagem tenha na altura sido interiorizada em círculos maiores do que que a elite mais atenta às questões culturais. Mas, em obras como A Ascensão do Homem [6], uma história popular da civilização humana, Bronowski esforçou-se no sentido da sua propagação.
Rómulo de Carvalho
Bronowski teve contemporâneos em Portugal que, estando ou não conscientes da discussão cultural no mundo anglo-saxónico, partilharam da sua ideia da profunda unidade entre ciências e artes. Havendo outros, um dos nomes maiores nesta junção entre nós das “duas culturas” foi o professor de Física e Química do ensino secundário e escritor Rómulo de Carvalho (poeta, contista e dramaturgo sob o nome de António Gedeão). A sua obra poética ilustra de um modo exemplar as possíveis relações entre arte e ciência [7], as quais muito dificilmente ele poderia pôr em prática nas escolas onde foi professor, dadas as limitações que eram os programas oficiais, as metodologias impostas e os livros únicos. Prudentemente, como revela a própria criação de um pseudónimo (surgido em 1956), ele próprio separou os dois mundos que coabitavam dentro de si. No entanto, no artigo “Ciência e Arte”, publicado na revista Palestra no Liceu Pedro Nunes em Lisboa, em 1958 [8], Rómulo de Carvalho, que nessa altura ensinava nesse liceu, escreveu:
“No nosso sentimento (e o tema é para discussão) o artista e o cientista são dois destinos paralelos embora em fases dispares da sua evolução. Ambos desempenham na sociedade o mesmo papel de construtores, de descobridores, de definidores: um, do mundo de dentro; outro, do mundo de fora. Precisemos melhor a questão. Não estamos apenas a afirmar (o que certamente teria o aplauso geral) que o artista e o cientista são pessoas igualmente estimáveis, merecedoras do mesmo respeito e ambos imprescindíveis na sociedade. Estamos a querer exprimir mais do que isso, que um e outro ocupam lugares de igual necessidade, que aqueles mundos de dentro e de fora são de transcendência equivalente, que ambos esses mundos exigem a permanente busca, a orientada investigação que, em nossos dias, é considerada apenas apanágio da Ciência.”
A unidade entre ciência e poesia voltou a ser salientada por Rómulo de Carvalho, numa entrevista que deu, em 1991, terminada a sua carreira escolar e já perto do final da sua vida [9]. Quando interrogado sobre a referida dicotomia entre ciência e poesia respondeu:
“Há alguma dicotomia? Não há nenhuma! A pessoa encara a poesia como encara a ciência como encara a arte, como encara qualquer coisa, não há incompatibilidade. [...] Quer dizer, há uma base de onde parte tudo o que é um certo entendimento do que nos rodeia, na busca da melhor maneira de expressar aquilo que se sente. Tanto pode ser num campo como noutro. [...] É que na poesia estou a falar comigo. Enquanto na minha actividade profissional, estou a falar com os outros. “
E, mais à frente na mesma entrevista, acrescentou:
“Bem, […] repudio até essa dicotomia. Nós estamos muito viciados, nós ocidentais, [...] nós estamos todos muito viciados pela cultura greco-latina... todos... e continuamos a ver na poesia aquela coisa extraordinária, mítica e mística, aquele valor extraordinário que os gregos e os romanos atribuíram aos poetas. É claro que era uma época em que a ciência não tinha peso nenhum. Embora hoje nós saibamos que eles tecnicamente tinham coisas muito valiosas – muito interessantes, muito valiosas, muito bem imaginadas. Mas, naturalmente, não havia ninguém que pensasse pôr uma coroa de louros na cabeça dum técnico. Isso ficava reservado para os poetas.”
Como estamos hoje nas escolas portuguesas num tempo pós Gedeão? Parece claro que, apesar de todas as citações a esse e outros autores que souberam conciliar ciências e humanidades (a começar logo pelo nosso maior poeta, Luís de Camões, cujos primeiros versos impressos surgiram num livro de ciência, os Colóquios dos Simples, de Garcia de Orta [10], e cuja obra maior, Os Lusíadas, é um repositório de conhecimentos de astronomia, meteorologia, química e botânica [11]), a actual formação de professores não ajuda a que uma ligação fértil entre ciência e artes se concretize no plano pedagógico. Continuam a existir sérios entraves como a organização e práticas escolares. Por isso, que muitos jovens têm de descobrir, fora da escola, as conexões da cultura humana que a escola lhe esconde.
Para as pessoas formadas nas ciências – e, em geral com uma preparação nas artes reduzida – será mais viável fazer um percurso auto-didacta em áreas das artes: por exemplo Jorge de Sena, autor do prefácio para a Poesia Completa de Gedeão, que ajudou na afirmação deste autor no mundo literário, formou-se em engenharia civil (curiosamente tinha aluno de Rómulo de Carvalho). Só para dar alguns exemplos avulsos, alguns poetas como Sena têm formação científica, como Ruy Cynatti, que era antropólogo, José Blanc de Portugal, que era meteorologista, e Eugénio Lisboa, que é engenheiro electrotécnico. para já não falar dos numerosos poetas médicos, como Miguel Torga, Fernando Namora, Bernardo Santareno, António Lobo Antunes, Jorge de Sousa Braga, João Luís Barreto Guimarães e António Oliveira [12]. Em contraste, será mais difícil às pessoas formadas nas humanidades, com mais reduzida preparação matemática, a entrada no mundo da ciência.
O exemplo de Werner Heisenberg
Outras escolas que não a nossa têm sabido comunicar uma formação humanista integral, a qual, partindo das nossas raízes greco-latinas, e passando pelo Renascimento, transmite aos estudantes o que tem sido a “ascensão do homem.” Um bom exemplo dessa formação é aquela que os liceus do espaço germânico proporcionavam no século XX, como tão bem revelam as biografias e obras dos autores da teoria maior do século XX que foi a teoria quântica, a teoria que, numa grande visão unificadora, explica tanto os átomos como as estrelas. Após os passos iniciais dados por uma plêiade de físicos como Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr e Louis de Broglie, essa teoria ficou completa, na forma que hoje conhecemos e aplicamos, em 1926, com os notáveis trabalhos, independentes mas complementares, do físico alemão Werner Heisenberg, Prémio Nobel da Física de 1932, e do físico austríaco Erwin Schrödinger, Prémio Nobel da Física de 1933, o primeiro autor de uma “mecânica de matrizes” e o segundo de uma “mecânica de ondas”, que são apenas duas maneiras diferentes de formular a mesma doutrina.
Uma vez que o humanismo de Schrödinger já foi valorizado noutro lado [13], valerá a pena deixar aqui algumas notas sobre Heisenberg. Bom apreciador de música clássica (também pianista) e profundo conhecedor da filosofia, a começar desde logo nos clássicos greco-latinos, Heisenberg conhecia o dito Pulchritudo splendor veritatis, para a qual chamou a atenção no seu livro Across the Frontiers [14]:
“O significado da beleza para a descoberta da verdade tem sido reconhecido e enfatizado em todos os tempos. O lema em latim Simplex sigillum veri – ‘O simples é o selo da verdade’ – está inscrito em letras garrafais no auditório de Física da Universidade de Göttingen, como uma exortação àqueles que descobririam novidades; mas outro lema em latim, Pulchritudo splendor veritatis, ‘A beleza é o esplendor da verdade’ – pode também ser interpretado como querendo dizer que o investigador reconhece a verdade, primeiro, por seu esplendor, pelo modo como ela brilha.”
O seu ponto de partida são as ideias pitagóricas, que desembocaram no platonismo, respeitantes à ligação entre a matemática e a música. Essa relação seria mais tarde cultivada por cientistas. O pai de Galileu, Vincenzo Galileo, foi alaudista em Florença, cocriador da ópera e teorizador da harmonia musical [15]. Muito mais tarde, Einstein, um violinista amador, confessou que, se não fosse físico, seria músico, justificando desta maneira: “Penso muitas vezes musicalmente. Vivo musicalmente os meus sonhos diurnos. (…) Tiro o maior prazer da minha vida do violino” [16]. Heisenberg acrescentou sobre a definição e o papel da beleza [14]:
“A beleza, conforme a primeira das nossas definições antigas, é a conformidade adequada das partes entre si e com o todo. As partes aqui são as notas individuais, enquanto o todo é o som harmónico. A relação matemática pode, desse modo, reunir duas partes inicialmente independentes num todo e produzir beleza. Essa descoberta produziu um avanço na doutrina pitagórica para formas totalmente novas de pensamento, suscitando, assim, a ideia de que a base primordial de todo o ser não era mais considerada matéria sensorial, tal como a água em Tales, mas sim um princípio ideal de forma. Isso afirmou uma ideia básica que, mais tarde, forneceu o fundamento para todas as ciências exactas.”
Numa carta a Einstein transmitiu essa mesma posição [17]. Aprofundando a ligação entre ciência e arte, esclareceu [14]:
“Compreender a multiplicidade colorida dos fenómenos foi, desse modo, aprofundada através do reconhecimento neles de princípios unitários a respeito da forma, que podem ser expressos na linguagem da matemática. Deste modo, foi estabelecida também uma conexão íntima entre o inteligível e o belo. Porque se o belo é concebido como a conformidade das partes entre si e com o todo, e se, por outro lado, toda compreensão é tornada possível em primeiro lugar por meio dessa conexão formal, então a experiência do belo torna-se virtualmente idêntica à experiência das conexões, sejam estas compreendidas ou pelo menos adivinhadas.”
Por aqui se percebe que, para um grande criador da ciência, a experiência científica é semelhante a uma experiência estética. Na mesma linha, disse o matemático alemão Hermann Weyl: “Sempre procurei no meu trabalho juntar o verdadeiro e o belo, mas, quando tive de escolher, escolhi normalmente o belo”. A física moderna veio, ao longo do século XX, a revelar a existência de simetrias abstractas no âmago da realidade física. E as simetrias são, como sempre foram e como a arte tão bem evidencia [18], manifestações superiores de beleza.
Em conclusão
Há muito espaço – e há uma multidão de caminhos para percorrer – para a aproximação entre ciências e humanidades na escola. Uma vez que a escola se destina a preparar para a vida, a questão é a de saber que vida desejamos para as gerações seguintes: uma vida fragmentada e quiçá dolorosa ou uma vida plena e tranquila, na qual saibamos ocupar o nosso lugar no mundo, procurando responder às nossas interrogações, em particular as que dizem respeito ao desafio que estava inscrito no templo de Delfos: “Conhece-te a ti mesmo!”
Konrad Lorenz, um dos pais da etologia e prémio Nobel da medicina de 1973, enfatizou a necessidade de comunicar a proximidade entre beleza e verdade aos jovens [19]:
“Os jovens de hoje deem ter acesso à mensagem de magnificência e beleza deste mundo para que compreendam o lugar do homem no universo e se não abandonem ao desespero. É preciso fazê-los compreender que a verdade também é bela e está cheia de mistérios inimagináveis e que não é necessário entregarmo-nos às drogas ou tornarmo-nos místicos para termos a experiência do maravilhoso.”
Referências:
[1] Snow, Charles P., The Two Cultures and a Second Look, Cambridge Mass., Cambridge University Press, 1963. Traduções portuguesas são As Duas Culturas, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1965, e Lisboa,: Presença, 1996; ver sobre o tema: Fiolhais, Carlos, “‘Estranhas, mas irmãs’: revisitando a questão das duas culturas”, Revista Lusófona de Estudos Culturais 2, vol. 3 (2016), p. 103-111. http://estudosculturais.com/revistalusofona/index.php/rlec/article/view/259/162>.
[2] Fiolhais, Carlos, “Imaginação, ciência e arte”. Biblos. Série 2. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade. Vol. 6 (2008), p. 3-16. http://hdl.handle.net/10316/12372 .
[3] Fiolhais, Carlos, “Os jardins secretos de Mandelbrot“, in Universo, computadores e tudo o resto. Lisboa: Gradiva, 1994. http://dererummundi.blogspot.com/2008/08/os-jardins-secretos-de-mandelbrot.html
[4] Keats, John, “Ode on a Grecian Urn, in Annals for the Fine Arts for 1819, vol. 4. Ver Complete Poems, Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1982. Algumas odes estão traduzidas em português, ver e.g. Odes, Porto: Livraria Sousa Almeida, 1960.
[5] Bronowski, Jacob, Science and Human Values. New York: Julian Messner, 1956. Tradução portuguesa: Ciência e Valores Humanos, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1972. Texto reeditado em Bronowski, Jacob, A Responsabilidade do Cientista e Outros Escritos, (Introd., org. e notas de A.M. Nunes dos Santos, C. Auretta e J.L. Câmara Leme), Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1992.
[6] Bronowski, Jacob, A Ascensão do Homem. Boston: Little Brown and Company, 1974. Reedição, London: BBC, 2013. Há tradução em português do Brasil: A Escalada do Homem São Paulo, 3.ª ed., 1992.
[7] Gedeão, António, Poesias Completas (1956-1967), Lisboa: Portugália, 2.ª ed., 1968. Reedição: Obra Completa, Lisboa: Relógio d’Água, 2004. O prefácio, intitulado “A Poesia de António Gedeão (esboço de análise objectiva),” é de Jorge de Sena. Sobre a poesia de Gedeão ver: Fiolhais, Carlos, “Poesia e Ciência em António Gedeão”, Nova Síntese, Cultura Científica e Neo-Realismo, Fitas, Augusto J.S., (ed.)Lisboa: Colibri 2019. http://dererummundi.blogspot.com/2019/10/poesia-e-ciencia-em-antonio-gedeao.html
[8] Carvalho, Rómulo de, “Ciência e Poesia”, Palestra 1 (Lisboa, 1958), p. 20-27.
[9] Christopher Auretta e António Nunes dos Santos, António Gedeão: 51+3 Poems and Other Writings, Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 1992. Tradução em português: “Uma Conversa com Rómulo de Carvalho”, Gazeta de Física vol. 16, fasc. 1 (1993), p. 2-8.
[10] Fiolhais, Carlos e Paiva, Jorge (coords.), Primeiro Livro de Botânica: Colóquio dos Simples, de Garcia da Orta, vol. 15 de Fiolhais, Carlos, e Franco, José Eduardo (coords.), Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa. Lisboa: Círculo de Leitores, 30 vols., 2017-2019.
[11] Tomás, Túlio Lopes, Os Lusíadas e a Ciência do Renascimento. Macau: Imprensa nacional. Ver também Silva, Armando Tavares, Camões e a Química. A Química em Camões, ed. autor, Lisboa, 2010, e Paiva, Jorge, “As plantas na obra poética de Camões (épica e lírica)”, in Andrade, António Manuel Lopes de et al. (coords.), Humanismo e Ciência, Antiguidade e Renascimento, Coimbra: Universidade de Aveiro editora e Imprensa da Universidade de Coimbra e Annablume, http://hdl.handle.net/10316.2/35691
[12] Fiolhais, Carlos, “Ciência e Literatura: Encontros e Desencontros”, Atlântida, LXIII (2018), p. 277-286. ( http://dererummundi.blogspot.com/2018/12/ciencia-e-literatura-encontros-e.html ). Ver também duas antologias sobre ciência e poesia: e Bochicchio, Maria, e Moura, Vasco Graça, O binómio de Newton e a Vénus de Milo. Lisboa: Fundação Champalimaud e Alêtheia, 2011 e Malhó, Rui, O Bosão do João, 88 poemas com ciência, Lisboa: By The Book, 2014.
[13] Fiolhais, Carlos, “Ciência e humanismo: a visão da ciência de Erwin Schrödinger. Biblos. Nova série. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade. N.º 1 (2015), p. 127-151.
( http://hdl.handle.net/10316/40714 ).
[14] Heisenberg, Werner (1982), “The Meaning of Beauty in the Exact Sciences.” In: Across the Frontier. New York: Harper & Row, 1974, p. 167-180. Ver também do mesmo autor: (1984) Physics and Philosophy, New York: Harper & Brothers, 1958, e Physics and Beyond: Encounters and conversations, Harper and Row, 1971, Tradução portuguesa: Diálogos sobre Física Atómica. Lisboa: Verbo, 1975. Sobre a estética em Heisenberg ver Videira, António Passos, e Puig, Carlos Fils, “Realidade, linguagem e beleza segundo Werner Heisenberg,” Prometeica, n.º 21 (2020), 73-84. (https://doi.org/10.34024/prometeica.2020.21.10410 )
[15] André, João Paulo, Poções e Paixões, Química e Ópera, Lisboa: Gradiva, 2019.
[16] Calaprice, Aline, The Ultimate Quotable Einstein, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2011. Há tradução portuguesa: Citações de Albert Einstein. Lisboa: Relógio d’Água, 2018, p. 237.
[17] Stewart, Ian, Why Beauty is Truth. A history of symmetry, New York: Basic Books, 2007, p. 278. Ver também: Chandrasekhar, S., Truth and Beauty. Aesthetics and Motivations in Science, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987.
[18] Weyl, Hermann, Simetria, Lisboa: Gradiva, 2 017, rev. científica e posfácio de Carlos Fiolhais.
[19] Lorenz, Konrad, The Waning of Humaneness, Boston: Little, Brown and Company, 1987, p. 209-210.